Eu vou falar sobre dois textos literários, do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector, vou falar de dois textos deles, o conto ou novela Meu tio o Iauretê e o livro, o romance da Clarice, que é A paixão segundo G.H. Então vai ser em torno desses dois livros que eu vou falar hoje. O título dessa palestra, A força de um Inferno, é um trecho da paixão (livro) da Clarice que diz de um mundo todo vivo, ou porque um mundo todo vivo tem a força de um Inferno. Outros títulos que eu dei, dei vários títulos (…), o outro era a diferonça da fera e do fora ou, eu vou me permitir a palavra que o Caetano acabou de consagrar no título de uma música, o outro título, que eu prefiro que é: Rosa é fera, mas Clarice é foda (risos). Conhecem a música do Caetano, A Bossa Nova é foda, então a palavra está oficializada, não há problema. Eu prefiro. Vou contar um pouco a razão do percurso, sobre os dois textos, têm proximidades temáticas superficiais óbvias, é um pouco por essa razão que eu os aproximei, ambos descrevem uma relação particular entre um ser humano e um animal. Pra quem não se lembra, Meu tio o Iauaretê é uma história de um mestiço de índio e branco, de branco e índio que se transfaz, se transformando em onça no conto e A paixão segundo G.H. é a história de uma mulher que come uma barata. Dizer que Meu tio o Iauaretê é uma história de um mestiço de branco e índio que se transforma em onça é na verdade um resumo adequado pro Meu tio o Iauretê. Já dizer que A paixão segundo G.H. é a história de uma mulher que come uma barata é dizer absolutamente nada sobre o livro. Nada em si de significativo, tantas outras coisas acontecem, o livro é muito mais complicado do que virar uma onça por vários aspectos, mas isso foi um pouco a razão que os aproximou. Na verdade, isso vem de um interesse meu antigo por um tema, que é um tema propriamente etimológico, que é um tema que venho acompanhando, estudando, escrevendo sobre há muito tempo, que é o tema da antropofagia, num sentido que transcende a distinção literal/metafórico, digamos assim, já no mundo indígena transcende essa distinção, mais ainda evidentemente quando a gente passa da etnografia, que é a antropofagia como um costume, como uma prática para o uso da noção de antropofagia, do conceito de antropofagia na literatura e depois na política, digamos assim, na estética política, pensando, evidentemente, no uso que a palavra recebeu, como o conceito foi desenvolvido pelo modernismo, em particular de Oswald de Andrade, e o estudo a sua volta da revista de antropofagia. Minha trajetória pessoal me coloca, na verdade, muito a questão do Oswald de Andrade anterior ao meu interesse pela antropologia, eu primeiro tive uma… achava que ia fazer literatura e ia acabar dando em letras, fazer letras ia acabar em literatura e Oswald foi um personagem fundamental na minha história, em termos de na época em que fui formado em universidade, sabe, que é o final dos anos 1960, começo dos anos 1970, teve um grande debate cultural no Brasil entre as duas esquerdas, a esquerda nacional populista e a esquerda, vamos chamar assim, artista, a esquerda existencial. Debate entre cultura popular, cultura internacional, cultura de massa, tropicália de um lado, samba raiz de outro etc, foi onde o Oswaldo, os concretistas, todo esse movimento (…) final década de 1960 tava envolvido. Descobri o Oswaldo primeiro, depois eu descobri o Lévi-Strauss, ou seja, a antropologia na faculdade e depois descobri (..) em função do meu interesse tanto do Lévi-Strauss que me foi despertado quanto em função da literatura nos (…) que foi meu grande professor aqui na faculdade e que me aconselhou a fazer antropologia, depois nós tivemos vários cursos (lendo) lendas mitológicas do Lévi-Strauss, nas quais como vocês sabem a onça tem um papel importante. Foi a partir do meu interesse em antropologia e do meu discurso com o tupi, cuja língua é uma língua da família do tupi-guarani, a mesma que fala o onceiro do conto do Guimarães, um conto no qual a noção, a ideia, o tema da antropofagia tem papel central, cosmológico, metafísico, ainda que eles não partilhem o canibalismo cerimonial, o ritual que os tupinambás do século XVI praticavam, eles são parentes próximos dos tupinambás, parentes próximos da mãe do onceiro, que é a mãe (tapuia…?), ou seja, uma índia da mesma região de onde vem, de onde eu estudei os iauaretes e foi a partir desse interesse por iauaretés, que é o tema da antropofagia, que eu voltei de certa maneira ao Oswald, que eu voltei aos usos, vamos chamar de combate, aos usos retóricos-políticos-estéticos e antropológicos da noção de antropofagia pelos modernistas, pelo Oswald. Foi de certa maneira também pelo meu interesse na antropologia, como eu reli, já antropólogo formado, O meu tio Iauaretê. Eu li com olhos completamente diferentes do que tinha lido quando era garoto, digamos assim, percebi que o conto do Guimarães era um conto espantoso pela sua veracidade, pela sua capacidade de capturar microscopicamente o modo como o índio interage com um branco igualmente. Quando eu falo igualmente, o que se passa na interação entre esses dois personagens-núcleo, entre essas duas posições muito particulares que são o narrador do conto e o narratário, o destinatário da narração com o qual o (leitor) se identifica, vou falar um pouco sobre isso, e então eu reli O meu tio o Iauaretê com olhos já ilustrados pela minha (…) em antropologia, pela minha experiência etnográfica, percebi que aquele conto, de alguma maneira, tava em uma continuidade com a problemática indígena, uma continuidade até certo ponto misteriosa e foi por acaso, em seguida, que eu me deparei com Clarice Lispector. Ao contrário, com Guimarães eu só fui ler muito tarde, quatro ou cinco anos atrás, para a minha vergonha, porque eu achava que não era (de grande interesse). E nunca tinha tido um interesse especial pelo trabalho dela (Clarice), acho que me lembrava dela pelas bancas de jornal quando eu era garoto e sempre achava que era uma coisa meio…achava que era uma literatura intimista, psicológica, enfim, o meu contato com ela era meio superficial, não havia muito interesse. Sobretudo eu mantive uma relação com temas antropológicos, amazônicos, indígenas etc em torno dos quais fiquei me virando boa parte da minha vida profissional. Mas, um dia minha filha, na época tinha 13 anos, tava arrastando um livro da Clarice pra lá e pra cá, porque era livro de escola…mais uma razão para não ler, o livro era de escola (risos). Mas eu que passei por não ler nada comecei a ler, porque comecei a ficar absolutamente perplexo, eu disse como é que eu nunca li isso dessa autora? Um pouco antes, em seguida, por acaso ali, peguei e comprei aquele livro que comprei na livraria depois, da Clarice, A paixão segundo G.H., que (…) com soco no estômago, um livro absolutamente espantoso. Espantoso não, muito diferente do Rosa, do conto do Rosa e uma autora completamente diferente do Guimarães Rosa e, de certa maneira, essa sensação que devolve um soco no estômago, uma sacudida na cabeça se reflete nesse título “O Rosa é fera, mas a Clarice é foda”. Queria dizer também que eu trabalhei muito tempo sobre o Guimarães, sobre a obra do Guimarães, ((…) língua existente dele, ainda na época da faculdade), trabalhei junto com ele na análise que ele fez do Buriti, uma das novelas do Corpo de baile, um autor com ele tinha, agora não tem mais, tinha alguma familiaridade. A Clarice, como eu disse, sou completamente novato no pensamento da Clarice. E o que eu percebi, diante de A paixão segundo G.H., é que aquele livro me expunha a uma relação entre humano e não-humano – que é um tema que me interessa fundamentalmente por conta da importância que ele tem pro mundo indígena -, expunha uma relação entre humano e não-humano com uma sofisticação, uma profundidade que eu nunca tinha visto na literatura. E é um livro completamente diferente a que o Guimarães expõe, com outros propósitos, outra linguagem. E foi por isso que eu resolvi começar a escrever um texto sobre (…?) um trabalho com esses dois escritos, o tigre e a Paixão, em torno dessa noção que eu inventei por trocadilho, não é um conceito, é um trocadilho, que é a noção de “diferenOnça” (“diferonça”), expressão que surgiu numa entrevista, em que eu tava falando com alguém, tava falando da importância, da diferença (…) (dos índios), eu falo o problema não é diferença, o problema é “diferonça” (diferençOnça) que era um trocadilho com uma série de outro trocadilho, esse sim com grande densidade conceitual que o Derrida faz de différence com “e” a palavra diferença em francês e différance com “a”, que se pronuncia exatamente igual em francês, que poderia se traduzir como “diferância” talvez, diferencia e diferância ou diferrância, talvez, com “rr” pra (..) com errância, uma palavra que está contida em diferrância e porque envolve parte do sentido do conceito de Derrida, em que ele faz um jogo entre différence e différance, a saber que os dois são indistinguíveis oralmente, mas são distinguíveis graficamente (e o Rafael) se emprestou para ilustrar e apoiar sua teoria da escrita, da diferença entre a escrita e a fala e vale também jogar com o (butoh) no sentido do conceito de diferença, de diferir, da raiz latina de diferir ou de diferença que significa, ao mesmo tempo, separar, distanciar, espaçar e adiar, isto é, espaçar no tempo, distinguir no tempo. Então a diferença aparece como uma dupla (…) diferir que é uma guerra de adiar, um adiar como espacejamento e um adiar como (ir) para mais adiante. Isso está ligado (…) do Derrida, do funcionamento a linguagem, do uso da linguagem, do uso do signo, está ligado a sua metafísica do signo, a sua (filologia) da linguagem. Eu brinquei com esse conceito de différance e disse não, nosso problema é o “différonce”, em francês a palavra “once” existe, “diferenOnça” (diferonça) em português. Onça é uma palavra rara em francês, menos comum, mas existe “once”, o animal que nós chamamos de onça os franceses chamam de jaguar, nós chamamos de jaguar também, mas chamamos mais comumente de onça, pelo menos aqui no (sul) do Brasil; impropriamente, porque onça, na verdade, vem de uma palavra grega que é a mesma palavra que vem o lince, na nossa língua e em várias línguas; é a mesma raiz grega para lince, onça e (…?) que é um felino europeu. Não é a única palavra em que acontece isso, nós em português preferimos usar a palavra latino-portuguesa ou europeia, ali onde a língua europeia usa palavras tupi, onça e jaguar é um exemplo, anta e tapir é outro exemplo, e assim vai (…). Mas a “diferenOnça”, na verdade, é um trocadilho no sentido da obrigação de reformar um conceito, pelo menos tentar transformar, que nem se eu comprasse um sofá e eu tivesse que construir uma casa em volta. Foi um pouco o que eu fiz. Eu fiz agora um trocadilho com a minha casa, onde colocar esse sofá; é um pouco uma tentativa de dar um pouco de carne, de substância a esse conceito de “diferenOnça”, que apareceria como um conceito que teria, digamos assim, uma releitura política-antropofágica, politicamente antropofágica dos conceitos de diferença característicos do pós-estruturalismo, Deleuziano, foucaultiano (…?), que vão constituir um pouco a transformação e herança do estruturalismo, ambiente do qual, atmosfera da qual eu me formei. A chamada filosofia da diferença que eu agora estou tentando transformar na filosofia da diferençOnça (“diferonça”), nesse sentido, a saber, tentar recuperar o conceito, retomar e aprofundar o conceito da antropofagia tal como… pensado como um ícone entre um conceito antropológico de antropofagia cerimonial ritual e o conceito que eu próprio desenvolvi, a minha interpretação, se vocês quiserem, do tema da antropofagia nas culturas ameríndias, em particular da tupi, de um lado, a antropofagia como conceito antropológico oswaldiano, um conceito que envolve uma teoria da cultura, uma teoria da (bela irmã), uma antropologia, uma teoria da humanidade, uma teoria do que envolve o ser humano em um universo que está contido no conceito de antropofagia oswaldiano, conceito modernista de antropofagia e dessa mistura, desses diferentes fluxos e conexões da palavra propondo um conceito de antropofagia, dos usos da noção de antropofagia criar uma coisa como essa (filologia, filosofia) da diferençOnça, que tem a antropofagia enquanto devir não-humano e devir não-branco como temas centrais, como pautas centrais. A minha questão é, em última análise, tentar tirar ou construir as implicações filosóficas da antropofagia, nesse sentido largo da palavra, vou usar uma expressão (…?) antropofagia enquanto antologia política ou como antologia política do (…?). Esse projeto, uma teoria da antropofagia renovada, tomando a flecha que o Oswald deixou, onde ele a lançou, é que eu e muitas outras pessoas nesse momento, nessa minha geração (…) estamos envolvidos, que é (metidos) nas implicações filosóficas da antropofagia. A minha leitura do Guimarães e da Clarice entra nessa sequência. Eu vejo o Guimarães e a Clarice em continuidade, no aspecto que me interessa, com o Oswald. E vejo, na verdade, o Oswald, a Clarice e o Guimarães como os (maiores) pensadores brasileiros do século XX. Pensadores literalmente. Isso é um tema clássico na história da cultura, da literatura… nas línguas menores, as línguas que não são da grande tradição europeia inglês, francês, alemão e nos países menores, nos países periféricos, quem pensa são os escritores, quem faz a função dos filósofos da grande tradição, quem faz essa função são os literatos. Os literatos são as antenas da consciência dessas línguas e dessas culturas. Isso não é exclusivo do Brasil, você pode verificar isso no povo espanhol latino-americano, aonde Borges certamente um pensador de maior profundidade que qualquer filósofo argentino, pelo menos de maior disseminação, provavelmente de maior profundidade que qualquer filósofo que eu conheço, pelo menos até agora, é claro. E assim você vai para as línguas eslavas, para línguas menores nesse sentido geral. No Brasil, no século XX, para ficarmos nesse, o Oswald, a Clarice e o Guimarães, meu paideuma pessoal, para usar a expressão do Bauman são os três grandes pensadores brasileiros, e eu vejo os três, tomados a partir desse ponto, desses dois textos, do tigre e da Paixão, como desenvolvendo aspectos, desenvolvendo a herança oswaldiana, a (..) também era essa modernista, mas de modos bem particulares. Acho que é impossível pensar O meu tio Iauaretê sem pensar o tema da antropofagia tal como veio do modernismo, acho que há uma clara – em particular o Mário, em particular Macunaíma, provavelmente – mas acho que também a Clarice, está nessa continuidade. O Oswald, aliás, já dizia, ele escreveu um pouco antes de morrer, que os grandes escritores de seu tempo, não me lembro quem era o terceiro, mas falava Guimarães Rosa, Clarice Lispector (…), estava falando dos prosadores. Apareceu uma frase muito interessante que ela diz naquela conferência que ela fez sobre o conceito de vanguarda na literatura, não me lembro o nome, depois ela repetiu em vários lugares, um dos poucos textos teóricos dela, ela tem uma frase que ela fala assim: a língua brasileira, isto é, uma língua ainda não trabalhada pelo pensamento exige esforço especial. (do escritor). (…). “Nossa língua ainda não foi profundamente trabalhada pelo pensamento”, diz a Clarice. Pensar a língua brasileira significa pensar sociologicamente, psicologicamente, filosoficamente, lingüisticamente sobre nós mesmos. O resultado são e serão o que se chama de língua literária, língua que reflete e diz com palavras que instantaneamente aludem a coisas que vivemos, nossa linguagem real, uma linguagem que é fundo-forma, a palavra é na verdade um ideograma.” O que traz para mim é essa idéia de que a língua não foi profundamente trabalhada pelo pensamento. Clarice assume, admite que ela está trabalhando com uma língua virgem, uma língua que ainda não foi trabalhada pelo pensamento. É uma língua que os escritores estão trabalhando, é uma língua que foi deixada para os escritores, uma língua que não foi investida pela filosofia, pela abstração, e que a isso cabe os escritores fazerem. Como eu disse esse “envolve pensar psicologicamente, lingüisticamente…” vamos reduzir isso para “antropologicamente” sobre nós mesmos. Então essa idéia do escritor como pensador da periferia, filósofo da periferia, é uma ideia que me interessa muito e eu acho que a Clarice e o Guimarães são dois autores que fazem isso de maneira especialmente aguda. Ambos (com visões, ambições filosóficas, textos, missões) com visada, com horizonte filosóficos muito difíceis. Ambos são comparáveis, são contemporâneos; comparáveis e completamente diferentes entre si. Acho que esse é um ponto interessante de pensar os dois juntos, justamente esses dois textos sobretudo, que são textos absolutamente diferentes, com personalidades antagônicas, completamente alheias uma da outra, de certo ponto de vista, embora Clarice elogie muito o Guimarães etc (…). Meu conhecimento antropólogo dos dois autores é muito lacunar. Eu vou fazer então aqui alguma coisa que eu vou criticar o que os críticos literários fizeram com a minha disciplina, vou mover algumas críticas usando a antropologia pelos críticos literários quando fazem análise, em particular do Guimarães, do conto O meu tio Jaguaretê, eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, ficar pronunciando aqui generalidades um pouco rudimentares sobre duas obras da literatura sobre as quais não tenho competência pra julgar, mas enfim, então estou devolvendo, estou me vingando, digamos assim, de coisas não muito densas que foram ditas a respeito da antropologia, dos aspectos antropológicos do meu tio Jaguaretê, dizendo coisas não muito densas sobre o texto em si. Vamos começar. Eu vou andar em círculos, porque eu fiz notas e as notas se repetem e voltam e eu vou comparar os dois autores e, ao mesmo tempo, vou tratar um pouco separadamente, enfim, vocês vão ver se faz sentido ou não ou o que faz sentido disso (…). Primeira coisa que é o primeiro laço forte de conexão, de continuidade Oswald, Rosa e Clarice é o tema do matriarcado, o matriarcado antropofágico. Os dois textos, do Guimarães e da Clarice, tem evidentemente o tema do matriarcado antropofágico, que é um tema oswaldiano. No caso do O meu tio Jaguaretê é um pouco um matriarcado antropofágico como tragédia e não como utopia, mas como tragédia. O conto, relembrando, é a história de um índio que renega a sua filiação paterna, branca, é um mestiço de homem branco com uma mulher índio, que renega sua filiação paterna e reivindica seus laços com o lado da mãe, com a tribo da mãe, com os índios. Em outras palavras, é um mestiço de branco com índio que volta a ser índio. E volta e reivindica sua indianidade, (um divergente se diria hoje) e que se define, portanto, pelo lado da mãe. E o conto termina em tragédia, embora não saibamos exatamente como ele termina, mas vamos falar sobre isso. O texto da Clarice é um texto sobre o matriarcado antropofágico de uma maneira múltipla, às vezes paradoxal. É um texto sobre uma mulher que pratica na verdade uma espécie de autofagia, ela se divide de certa forma, tem uma frase paradoxal como é tipicamente da Clarice nesse romance, ela diz “Eu não estava me suicidando, eu estava assassinando a mim mesma”, ou seja, ela distingue radicalmente o suicídio do assassino de si mesmo, é uma definição de suicídio, mas ela o distingue para indicar precisamente uma cisão, uma fratura interna, no qual você tem uma dimensão antropofágica tematizada pela devoração de uma barata que é ela, na verdade, por isso eu falo em autofagia, ela diz “eu sou a barata”, e isso tudo passa por uma relação complexa com a feminilidade, com a mulheridade, é uma palavra mulher, a barata é fêmea, toda barata é fêmea, como ela diz numa frase dessas de soco no estômago, ela prende a barata, a barata não é aquela barata que ela prende na porta para matar, ela fecha a porta na cara da barata, esmaga a barata pela cintura e ela fala que tudo aquilo que é esmagado pela cintura é mulher. E essa barata é uma mulher. Então tem todo um devir-mulher no sentido deleuziano da palavra dentro do conto que envolve o matriarcado nesse sentido, vamos chamar assim, uma “matrianarquia” (…), enfim, e a barata é tematizada como uma barata-mãe, barata-virgem Maria, a própria narradora do conto, a G.H., é uma espécie de personagem adâmica, ou melhor, egoica, é uma Eva, é uma anti-Eva na verdade, ela perde o nome, ela mora num paraíso onde as coisas não tem nome, é um mundo sem nome, uma espécie de anti-Eva nesse sentido, e eu diria que o primeiro tema forte que liga esses dois pontos à questão da antropofagia é o tema do matriarcado antropofágico vivido sob um modo da tragédia ou do fracasso, porque podemos lembrar que o conto da Clarice termina com um fracasso, ela volta mais ou menos aonde estava no começo. O conto é a história de uma epifania, de uma revelação, um êxtase. Ela é uma autora de classe média alta que em uma epifania num quarto da sua empregada, que desaparece no conto, mas é uma personagem absolutamente central, e em seguida ela tem essa relação com a barata e entra num mundo do fora absoluto, por isso que o mundo chama da fera ao fora, uma exterioridade absoluta, e ao qual ela retorna no final, ela não se vê, mas ela come a barata e ela fica inconsciente no momento em que ela come a barata. Ela não vê, ela não reflete, ela não memoriza o momento exato em que ela come a barata, é um fracasso, é uma espécie de piedade, ela pecou por orgulho achando que podia comer a barata, achou que um humano pode comer um não-humano assim e, no final, barata tem que comer barata, humano tem que comer humano. O conto é uma espécie de caída de volta na normalidade, então existe esse caráter de fracasso assim como no conto do Guimarães existe um final misterioso, o conto de certa maneira não termina, você não sabe como ele termina. Um dos temas que junta os dois textos é o tema do regresso, da regressão, se vocês quiserem. Não uma volta à natureza, como foi interpretado por vários autores, críticos do Guimarães, da Clarice, mas sobretudo do Guimarães do O meu tio Jaguaretê pensando (em natureza em oposição a cultura etc). Não uma volta à Natureza, com N maiúsculo, mas uma volta àquilo que a Clarice chama, no conto dela, de natureza terrível geral, é uma coisa muito diferente de Natureza. A Natureza em oposição à cultura é uma coisa, a natureza terrível geral é uma coisa completamente diferente. É uma volta que, ao mesmo tempo, é uma saída, não é uma volta pra dentro, mas uma volta pra fora. Esse ponto é fundamental. Quanto mais a Clarice entra, quanto mais a narradora entra, mais ela cai para fora. E o caso da regressão ou do regresso do onceiro, é de fato um regresso, um regresso à casa materna, um regresso ao lar materno, a sua posição de índio, e não é de forma alguma uma volta à natureza no sentido oposto, mas é muito mais um regresso do que uma regressão. E esse regresso é impossível, é um impossível regresso de alguma forma. A metamorfose é um fracasso nos dois casos, são dois contos de metamorfose e as duas metamorfoses fracassam, como toda metamorfose deve fracassar, me parece que é um ponto fundamental, um ponto que o (nome..?) faz na leitura muito aguda que ele faz do Meu tio o Iauaretê. O conto termina numa situação indevida, pra quem não lembra do conto, o onceiro vai se transformando numa onça diante de um narrador mudo, de narrador não, de uma testemunha muda, com a qual o leitor se identifica, e ele vai se transformando em onça progressivamente e, na linguagem, essa é a grande genialidade do Guimarães, é a linguagem que vai transformando o personagem em onça e não o contrário, não é o personagem que vai transformando a linguagem numa linguagem-onça e a linguagem de onça vai transformando o personagem em onça, mas aí no final do conto termina numa situação…termina como se fosse cinema. O onceiro está pulando em cima, está dando um bote em cima dessa testemunha muda e a testemunha está com uma (revólver) na mão, isso está claro na leitura, e a gente não sabe se ela atirou, se matou, se não matou, se onça comeu a testemunha ou se a onça foi morta pela testemunha. Esse conto, lendo ele hoje, relendo ele ontem, ele me incomodou muito, porque de repente eu me conta que ele libera uma diegese muito estranha, porque o conto parece as arpas de interrogatório comercial, como se ele tivesse vendo o onceiro através daqueles espelhos com uma face só, ou seja, você vê ele mas ele não te vê. (…). Mas no conto é como se fosse uma confissão extorquida por esse personagem mudo, que é um branco, gordo, como diz o onceiro, o senhor que é branco, que é gordo, dá esse relógio aí, seu relógio é bonito, sabe o que eu faço (pra pegar relógio), me dá mais um pouco de cachaça. (…) Mas o conto dá uma impressão de ter uma diegese muito bizarra, você não sabe como esse conto poderia…é um drama, mas você não sabe como poderia… é uma gravação? Foi feita pelo narrador, por esse personagem invisível? É um filme? É uma diegese muito estranha. O texto da Clarice também tem um agenciamento enunciativo muito bizarro, mas enfim. Como eu disse são duas histórias de canibalismo, embora a gente tenha que distinguir talvez entre canibalismo stricto sensu e a antropofagia, são dois conceitos um pouco diferentes. O canibalismo stricto sensu é o que os (…?) chamam de alelofagia ou de omofagia, que é comer-se um ao outro da mesma espécie ou omofagia que é comer cru. (…). Canibalismo é comer a própria espécie. A antropofagia, evidentemente, é um tipo de canibalismo que alguns homens a praticam, mas as onças também são antropófogas e não são canibais. A onça não come onça, mas onça come gente. A onça é antropófoga. Então há uma certa distinção a fazer, o tigreiro – o personagem do conto do Guimarães, o índio, que era um caçador de onças profissional – ele é antropófago porque ele recusa a ser canibal, ele se torna antropófago porque se recusa a ser canibal; ele vai virando onça, não pode mais matá-la ou comer, dá no mesmo, onça, e começa a comer homem como as onças fazem, então ele jamais está numa posição de canibalismo propriamente. Quando ele come gente, ele é onça, quando ele mata onça ele era gente, e ele vai ter que resolver esse problema e o conto conta um pouco a história de como é que ele resolve. E no caso da Clarice, G.H. que é a personagem da A paixão segundo G.H., uma mulher, ela é antropófaga porque ela come a si mesma. Mas ela come a si mesma sob a forma da barata e depois (diz o seguinte) finalmente barata come barata e humano come humano. Mas aí esse comer também é amar, então atravessar a barreira das espécies é uma inverdade, é você se achar que você é deus. Ela diz, viver a vida…ninguém vive a vida, cada um vive apenas a própria vida. Viver a vida com V maiúsculo, viver a vida em geral é ir longe demais. A G.H. é uma antropófoga porque ela devora a própria imagem, esse que é todo o tema da Paixão, e depois sair do espelho é um tema fundamental, embora só se refira uma vez no texto, o espelho é um tema importante (…). Os dois textos tem temas parecidos; o tema do Meu tio é a relação entre o outro e a fera, a alteridade e a ferocidade. O texto da Clarice, para jogar com as palavras, não é sobre o outro mas é sobre o neutro, uma palavra que ela usa obsessivamente no texto, neutro, (é uma palavra…? adjetivo, substantivo) o neutro e o fora; a fera, o neutro e o fora. Esse neutro tem uma imensa profundidade citado no texto da Clarice, que se liga ao anônimo, ao inexpressivo, ao nu, ao insosso, ao sem gosto, ao puro no sentido de completamente despido de qualquer qualidade, é a coisa em si na verdade, que é deus. Essa alteridade e essa neutralidade são tematizadas também pelo lado do anonimato; o onceiro não tem nome, ele tem vários nomes, ele é chamado por uma porção de nomes, Artonho de Eisus, Macuncozo, Tonho Tigreiro, quando ele está contando a história para essa testemunha invisível ele diz agora eu não tenho nome nenhum, não tenho mais não, não precisão mais não. E a G.H. já de cara não tem nome, tem apenas as suas iniciais. Ela diz G.H. é suficiente. Ela perde seu nome, tem toda uma simbólica judaica no nome, o nome (indizível), o nome que não pode ser pronunciado, a perda do nome (…) em nome de deus e tal, os muçulmanos trabalham com a noção anonimato e com essa idéia de usa a expressão da Clarice, que ela escreve já quase em tratado filosófico, quase não, ela escreve em vocabulário filosófico, os dois contos descrevem o que a Clarice chamaria de desmontagem humana do personagem, o personagem se desmonta, a sua humanidade se desmonta, se desfaz. E ambos vão em direção ao inumano. São duas histórias de canibalismo, como eu disse, uma, de um lado, é comer o homem, é o tema do Meu tio o Iauaretê, e a outra é comer o imundo, é uma expressão que a Clarice Lispector usa muito. Comer o imundo é comer o que o homem não come. Não é mais comer o homem, mas é comer aquele que o homem não come, comer o imundo, comer aquilo que (…?) proíbe, enfim, são dois modos de se desumanizar. Aí eu já antecipo uma parte da minha conclusão, porque a palavra antropofagia é uma palavra ambígua, a gente costuma usá-la como comer o homem, mas aqui pode significar comer o próprio homem, aquele que come. Antropofagia pode ser comer o humano, pode ser comer o sujeito, aquele que come o homem se desumaniza, pode ser imaginado como “para comer o homem é preciso primeiro comer a si mesmo”, comer o humano de si mesmo para poder comer o outro humano, para que o outro seja humano é preciso que eu não seja. E ele tem, na verdade, uma frase inicial de todo esse percurso do Oswald, Rosa, Clarice, que é uma frase muito mais antiga, é uma frase dita no século XVI pelo Cunhambebe, um chefe tupinambá, é uma frase que virou meu mantra pessoal, é uma frase que está no Hans Staden, um ancestral desses autores todos de um certo ponto de vista, é uns dos primeiros registros etnográficos detalhados da antropofagia cerimonial. O diálogo é um diálogo já escrito por mim várias vezes, quem já me leu conhece, o Hans Staden encontra, tem uma hora em que o Hans Staden está preso na aldeia tupinambá, cativo lá, ele ficou cativo 9 meses numa aldeia tupinambá, ali na costa sul do rio, tem uma hora em que eles matam uns prisioneiros de uma outra tribo, assam e estão comendo, o Hans Staden chega perto do Cunhambebe, que é o chefe dessa tribo, chefe tupinambá, cujo nome significa, talvez, mulher-voadora, um nome genial para um chefe de tribo canibal, mulher-leve ou mulher-voadora, voar, ser leve (…). Mas isso é um absurdo, nem os animais comem seus próprios semelhantes, nem as feras comem seus próprios semelhantes, como é que você, um humano, come um outro homem (Hans Staden). E o Cunhambebe responde: eu sou uma onça. E essa frase para mim é uma frase absolutamente emblemática, e a continuidade com essa temática Roseana e com a temática da Clarice, em que se poderia também dizer eu sou uma antropófoga, porque todo o tema dela é o insosso, o sem gosto por essencial, nesse momento ela é uma anti-onça, mas essa frase para mim é o que eu chamei de (cosme canibal), é, digamos assim, a resposta tupinanmbá ao código cartesiano “eu penso, logo existo”, é o equivalente, é o Cunhambebe dizendo “eu não sou um homem, eu sou uma onça”. Nota que ele não diz, e é isso o que me chamou atenção nessa frase, o que um europeu poderia responder ao Hans Staden se estivesse na mesma posição que o Cunhambebe, que é comendo a perna de um outro humano, coisa que os europeus na época andavam fazendo a torto e a direito, a cada dia na guerra de religião na França, os protestantes e os católicos estavam literalmente se comendo, vendia-se carne de huguenote, carne de católico nas feiras da cidade, (…?), cidade francesa, Normandia, mas se fosse um francês (ou um humano, um europeu) talvez responderia ao Hans Staden diria pra “como é que você, um homem, está comendo um outro homem”, diria mas isso que eu to comendo não é gente, isso é um bicho, desde quando (um tabajara …?) pode ser gente, isso aí é um porco, mas ele não disse isso, ele não disse que o que estava comendo não era humano, ele disse “eu não sou humano”, ele não colocou em dúvida a humanidade da presa, ele colocou em dúvida, ele estava fazendo uma tirada de humor com o Hans Staden, ele estava gozando do Hans Staden, e aí o principal, o mais significativo é ele dizer “eu não sou gente, eu sou uma onça”. (…). Um dos pontos importantes, tem um animal, é um devir-animal no sentido clássico da noção deleuziana, que é algo que não é nem uma metamorfose nem uma metáfora, é a escolha infernal que você sempre é obrigado a fazer diante de um (ato) escrito (ou se perguntar) se o fulano de fato se transforma em um animal ou se aquilo é só uma metáfora, um modo de falar. Na verdade, é claro que é sempre um modo de falar, os modos de falar estão envolvidos nesses devires-animais o tempo todo, sem dúvida o modo de falar é o melhor modo de escrever em ambos os casos, a onça é uma onça de papel, um tigre de papel, uma onça de papel, uma onça no papel, uma onça na palavra assim como a barata na Clarice são baratinhas, letras que parecem baratinhas no papel. Mas, por outro lado, não é uma barata, mas (tão pouco) uma metamorfose, num sentido…a Clarice vira uma barata. Quanto ao tigreiro, essa é uma questão complexa. Como eu disse, o (nome…?) na crítica dele, o Guimarães, como todos os escritores modernos, deixa a questão, se ele vira onça mesmo ou não, deixa em dúvida (…). O Guattari tem dois textos importantes, um do Kafka (…), ele tem uma ideia do devir como uma relação que não se deixa reduzir nem à identificação, que é a metamorfose, nem à correlação, que é a metáfora. Em ambos o caso, você tem esse devir-outro, uma expressão um pouco redundante, devir é necessariamente um devir-outro, mas acho que há sempre um devir-outro por trás do devir-animal, os contos não são apenas sobre um devir-animal, não são sobre transformação em animal, ou uma relação especial com o animal. No caso…em ambos os casos, em quase toda a série que aparece no título do capítulo do livro do autor dedicado ao conceito de devir, “devir-animal, devir-intenso, devir imperceptível”, e no qual entre outras noções que ele desenvolve nesse capítulo, tem uma parte muito importante sobre o devir-mulher. Ele diz que as mulheres elas próprias que são as primeiras na verdade que tem que devir-mulher, que mulher não é uma identidade, não é uma substância, é uma posição (por assumir) etc e assim por diante. Nesses dois contos, você tem um processo em que o onceiro que está virando onça, sob certo ponto de vista, a onça está virando outra coisa e, sobretudo, ele está virando é índio. O virar onça está associado a um virar índio. Nunca é puro, não é uma mera questão genérica, virar um animal da espécie tal. Você tem um processo em que virar onça é indissociável do virar índio, é conseqüência do virar índio, de alguma maneira, aí assim se pode dizer que o conto tem, evidentemente, uma questão dimensão alegórica, é uma metáfora do virar índio. Mas o virar índio é real. No caso da Clarice, há todo um processo não só de devir-mulher, primeiro que ela devém-negra, porque ela devém a empregada dela, primeiro ela vira pobre, ela é rica e vira pobre, em seguida ela é capturada pela imagem da mulher negra, que é a empregada dela, a Janaína, que desaparece, foi despedida antes, mas ela vai entrar no quarto, arrumar o quarto da empregada e descobre que o quarto está todo arrumado, não há nada a arrumar no quarto. Há uma silhueta, três silhuetas desenhadas na parede, de carvão, uma parece muita branca desenhada a carvão preto: um homem, uma mulher e um cachorro. Ela se sente capturada pela imagem da mulher, entre outras coisas, evidentemente aquelas imagens são um caso de feitiçaria, ela é enfeitiçada, isso não é tematizado no conto de maneira muito clara, mas tem um processo em que ela foi enfeitiçada por essa feiticeira negra, que é a empregada, que desaparece no conto e vai reaparecer em A hora da estrela como a Macabéa. Ela afunda e vai aparecer lá na frente ao contrário como a Macabéa, ou seja, um devir-pobre, um devir-mulher pobre (…). Além de devir-mulher, passa por esse devir-barata, barata que é mulher, (…) presa pela cintura, ela compara os olhos da barata a dois ovários, a todo um ovo que é um personagem central no imaginário da Clarice. O ovo é o contrário do espelho para ela, o ovo é um anti-espelho. Além de tudo, a Clarice entra num processo que pode ser chamado propriamente de devir-imperceptível, ela vira protozoário, ela vai perdendo…ela vira o inorgânico, um devir propriamente físico, um devir-molecular, um devir-atômico, ela se confunde com a natureza terrível geral, ou seja, não é só um devir-barata, um devir-animal, é um devir que passa por um devir-mulher, em seguida, barata e barata é um animal muito antigo e em seguida fóssil, há toda uma relação com a temporalidade no conto. Outra coisa importante aqui, eu diria que há duas maneiras diferentes, digamos assim, de realizar esse devir ou essa metamorfose, o Haroldo chamava o conto do Guimarães como o conto conseguiu capturar o momento mágico da metamorfose. Talvez, tudo bem, de acordo. Mas a metamorfose é interessante, porque se comparar a metamorfose do Guimarães com a da Clarice são muito diferentes. O devir-animal do Guimarães é quase um código. O da Clarice é uma mensagem, pra usar a famosa oposição código, mensagem…função de linguagem. O Guimarães não descreve a transformação, ele escreve a transformação. A transformação se escreve, então você tem de fato um devir não só na linguagem, mas da linguagem, a linguagem que vira onça. Na Clarice, a linguagem é um outro uso, é submetida a outras exigências completamente diferentes. É um devir da mensagem, é aquilo que o Haroldo justamente chamou de, num comentário que ele faz da Clarice, um trocadilho muito bonito, tipicamente Haroldiano, aquilo que é indescritível. Então você tem o indescritível, que é o que a Clarice tematiza o tempo todo, o texto dela obsessivamente gira em torno do que não pode ser dito, do que não se consegue dizer, do qual não há palavras para dizer. Então vamos ver inclusive que os dois usos da linguagem são muito diferentes, mas ambos tem essa coisa muito interessante que é uma espécie de explosão da linguagem. No caso da Clarice por uma abstração progressiva muitas vezes crescente, a linguagem vai rerefazendo cada vez mais, a linguagem pobre, (asséptica), uma linguagem que o Benedito Nunes chama, que a Clarice usa uma técnica de trabalho de desgaste da língua, é um processo bonito, ela vai desgastando a língua ali, ela vai ficando pobre, vai ficando nua, é uma língua seca, seca é o adjetivo mais usado talvez no livro inteiro (Paixão), seco, sendo as palavras mais comuns no livro seco, deserto e inferno. (…). A linguagem não se transforma, ela se debate com a linguagem, é diferente; o texto do Guimarães é m texto que vai passando da denotação para a linguagem convencional, para a onomatopeia, para a interjeição, e ali vai mudando o português pro tupi, o tupi que é um tupi muito pouco sintaticamente articulado, é uma língua menor, um tupi usado como língua menor, o nome da língua tupi é língua geral, passa para a língua geral, e essa língua, por sua vez, vai se reduzindo a uma língua que começa a interferir com o som das onças, com um vocalismo felino, então você tem um processo de mutação da linguagem. Enquanto que a da Clarice, ao contrário, vai para uma rarefação, (uma…?), de uma linguagem que se torna tão árida, seca quanto uma prosa de um filósofo, mas investida de um afeto num sentido espinosista do termo tão violento que você fica completamente capturado por uma escritora que não diz nada e… . Eu diria que, se fizesse uma interpretação alegórica dos dois contos, você teria claramente no conto do Guimarães uma interpretação da história da América. Pai branco, mãe índia, o negro como coringa da narrativa, o onceiro tupinambá, dos sete (…?), cinco são negros, e ele tem uma bronca especial com o negro, não está explícito, mas tem uma relação da onça com o negro que provavelmente vem de uma crendice popular, que a onça tem predileção pela carne de pessoas negras, de fato é conhecida no interior do Brasil, uma calúnia, digamos assim, estimulada pelos senhores de escravos para intimidarem os escravos a não fugirem pro mato. Criou-se o folclore de que onça gosta de comer preto, diz o narrador, o onceiro. (…). Mas é uma história da América. Você tem o negro, o branco e o índio, o branco é um poder ausente, duplamente, pai longe e a testemunha, esse branco gordo não fala nunca, a voz dele só a aparece espelhada na voz, nas respostas, nos comentários do onceiro, então esse branco ausente. E a lição de moral do conto, esse conto tem uma lição de moral, eu diria, é simples: mestiço quer voltar a ser índio? Branco mata. Só volta a virar branco, você tem de índio passar para branco, voltar de branco pra índio, no meio do caminho, como quer fazer esse onceiro, o branco vai lá e dá um tiro nele. Virar índio de novo é visto como uma impossibilidade lógica, índio só pode “ter sido”, não pode “voltar a ser”. Branco (é o que se pode ser), todo mundo sabe, o (…?) do mestiço é ir no negro pro branco, mestiçagem é um processo de branqueamento. (…). E a lição do conto é essa. A lição da Paixão, eu diria que você tem, menos que a luta da história da América, a luta de raças, você tem uma luta de classes. Mais uma vez a personagem negra é fundamental. A história toda se passa num quarto de empregada. É a empregada que está ausente e a patroa que vai virarando empregada, vai virando barata, a barata é a empregada, claramente a barata é uma coisa que a empregada deixou lá, negra como a empregada, para começar, escura, uma noiva como diz a Clarice, olhos de noiva etc. E, ao mesmo tempo, a G.H. vira a barata. Então você tem uma espécie de luta de classes que vai explodir no Macabéa, é muito mais forte nessa direção. O uso da linguagem nos dois contos, o que eles tem de comum, o Guimarães e a Clarice, antes de mais nada, é um trabalho muito forte sobre a linguagem. A realização de todas essas coisas de que a escrita é o elemento aonde a metamorfose constitui. A linguagem não representativa, não estar representando é muito forte, é uma dissertação sobre irrepresentabilidade do real. São duas linguagens ao mesmo tempo (espodais, espodádicas) como diria o Guimarães, um narrador espelhado em um interlocutor-personagem invisível, um diálogo monologado, que é a invenção no Meu tio o Iauaretê, por outro lado, no caso da Clarice, um narrador (…?), não para de falar, a Clarice não para de escrever, G.H. fica dando volta em nível circular, rigorosamente circular, termina como começou, seis travessões no começo, seis travessões no final, começa inabacado, termina inacabado, ou melhor, começa incomeçado, termina inacabado, termina… e não nos esqueçamos que o conto do Guimarães termina com três pontinhos e com o diálogo interrompido também. É um diálogo em que o onceiro fala em tupi uma frase inintelegível (…), uma frase em tupi que o Haroldo interpretou, traduziu de um jeito que eu acho que está errado, sei lá, na verdade acho que é um tupi “macarronizado”, que permite várias interpretações, mas que termina sem você saber, que termina em “in media res”. A impressão que eu tenho é que a onça está pulando, se fosse um filme, a onça daria um salto no ar e você não sabe se ela levou um tiro, se não levou, se ela comeu, o que aconteceu. Se no conto do Guimarães tem esse testemunho misterioso, esse branco, gordo, que ouve o onceiro, mas o onceiro está sempre falando com ele, metade do que o onceiro diz é respondendo às perguntas que ele faz, você só sabe o que ele falou pelo que onceiro contou. No caso da Clarice, ela inventa um personagem muito estranho, tem hora que é só uma mão, uma mão precepada de um sujeito, um homem, a quem ela dá a mão dentro do conto para poder contar algo terrível, ela precisa inventar, ela diz, um interlocutor, que ela chama de “meu amor”, que é o personagem que ela usa para poder narrar. Não ela, Clarice, a narradora usa para poder narrar, a narradora G.H. Você tem também temporalidades complexas. O texto do Guimarães é um texto muito marcado pelo tempo. Ele está escrevendo em dois tempos, o tempo (…?), em que o onceiro conta pra testemunha como é que ele foi matando os pretos que moravam na região, como que ele foi desvendando o sertão, “desonçar” o sertão, ele se identifica com um jagunço e começa a matar as pessoas, então ele conta esse processo e, ao mesmo tempo, tem um discurso…a narração modifica o narrado, no caso do Guimarães, porque a medida em que ele vai rememorando o que ele fez, ele vai se transformando em onça. Então o processo que deve durar uma noite, ele vai contando, vai ficando bêbado, cada vez contando mais coisas, começa mentindo, depois vai contando a verdade, vai ficando bêbado e vai contando a verdade, então, você tem uma interferência tanto da narração…uma dupla temporalidade, ligada uma na outra e no caso da Clarice, ao contrário, o livro inteiro é sobre um instante, a noção de instante. Tem um capítulo que começa com uma passagem espetacular, “Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Era assim: o país estava em onze horas da manhã.” Ou seja, toda uma ideia de um tempo instantâneo, em que a metamorfose é instantânea, ela não “vai virando”, não chega a um processo, é um evento instantâneo. A idéia de que algo acontece de repente é um tema recorrente na Clarice. Algo aconteceu. Alguma coisa tinha se passado. De repente ela nota que alguma coisa mudou. Ela entra no quarto da empregada e, de repente, tudo muda. Tem uma expressão que o Deleuze e o Guattari, (…?) em Três novelas, que se chama justamente “o que que aconteceu?” o nome do capítulo, eles tem uma frase que diz assim “tem situações em que nada aconteceu e tudo mudou”. Essa sensação de que nada aconteceu, mas tudo mudou é típica do A paixão segundo G.H., não acontece nada, ela está no quarto sozinha e mata uma barata, mas de repente tudo mudou. Essa ideia do instante me parece uma ideia fundamental no conto, porque o conto trabalhou com instantes instantâneos, sem tempo, tempos absolutos, eu diria que é o próprio devir e, por outro lado, tem uma temporalidades muitos arcaicas, muito deslocadas, ela fala do Egito antigo, das pirâmides, três mil anos atrás, protozoários, registros na escala evolutiva, vai parar na origem da vida, (…?) daqui centenas de milhares de anos nós não vamos mais usar a linguagem, nós vamos viver da matéria diretamente…não vamos mais ter ideias, só vamos ter atitudes. A temporalidade ou é um tempo arcaico, muito longe, ou é um tempo instantâneo. O Guimarães, ao contrário, tem uma temporalidade fina, particular, contempla a narração, a metamorfose como um processo que passa ao longo de uma noite, enfim, e (…?) você tem uma invisibilidade e isso é fundamental. Você não vê o que acontece. É uma onça que você não sabe se ela vira onça ou não, você não vê a hora em que ela se transforma em onça. Ela vai virando, já está virando, mas não vira nunca. E no caso da Clarice, você tem um processo em que na hora em que ela come a barata ela não vê, ela perde a consciência instataneamente e momentaneamente. Ou seja, é um quase virar, vira uma espécie de quase metamorfose, quase estrutural, não é um quase contingente, mas um quase necessário, quase um modo ontológico próprio, um quase virar. O conto do Guimarães, Meu tio o Iauaretê, o nome que eu dei pra esse conto, pra essa parte, esse capítulo só sobre o Guimarães seria a “onçologia fundamental de Rosa”. (…). Uma questão misteriosa, quando você lê Meu tio o Iauaretê é por que ele não foi publicado na hora em que ele foi escrito. O conto foi escrito em 1955, segundo o Guimarães, publicado em 1961, depois, portanto, do Grande Sertão, que foi publicado em 1956, ou seja, o conto teria sido escrito antes do Grande Sertão. (…). E é um texto prodigioso, do ponto de vista da linguagem, por que ele não foi publicado… (…?) ela supõe e eu acho que ela tem razão, a invenção dessa estrutura narratológica, diegética do conto é a que vai ser usada pelo Grande Sertão, que vai ser a grande invenção do Grande Sertão, um narrador que conta algo para alguém que você não vê nunca, que é o Riobaldo, conta para um personagem que não aparece nunca, mas que funciona como estímulo para ele poder prosear, refletir, meditar, ou seja, a mesma estrutura. Uma testemunha invisível, branca, não jagunça ou não índia, que é o leitor, o leitor se coloca (inteiramente nos sapatos) desse personagem e que tem esse monólogo-diálogo bizarro. Isso é inventado no Meu tio o Jaguaretê, utilizado no Grande Sertão e a (…?) entende e eu acho que ela tem razão, que ele vai esquemar essa invenção num conto menor em relação ao maior. Eu acho que tem outras coisas também. Eu acho que o conto Meu tio o Iauaretê, apesar de todo esse prodígio (que ele faz com a língua), é evidentemente uma obra de ambição inferior ao Grande Sertão. De certa maneira o conto Meu tio o Iauaretê é muito realista comparado ao Grande Sertão, porque no Grande Sertão você tem uma linguagem multi(…), você tem sentido literal, sentido hermético, sentidos cavalistas, sentidos ocultistas, sentidos metafísicos, vários sertões, sertão objetivo, sertão subjetivo, sertão metafísico, enfim. E o Meu tio o Iauaretê é um conto muito mais (…?), simples, estrutura menor. E também porque tem um tema, que é problema com o mal, um problema com o diabo, o problema do pecado, que é o grande tema do Grande Sertão e isso aparece como os sete pecados capitais no conto do Guimarães, cada personagem que o onceiro mata corresponde a um pecado capital. O primeiro é um preguiçoso, o segundo é um avarento, o terceiro é um raivoso, o quarto é uma mulher luxuriosa, o quinto é sujeito que inveja, enfim, os sete pecados, numa aparição mais direta que não tem uma explicação no conto. O conto desse ponto de vista é um pouco artificial comparado ao Grande Sertão, você não sabe muito bem o que os sete pecados capitais estão fazendo no conto, enquanto que no Grande Sertão o tema do mal, da traição, do absoluto, da existência do diabo é um tema…enfim. Eu já falei sobre esse (diálogo, virar onça na língua), acho que é a grande coisa do conto do Guimarães, a gente poderia falar numa ‘canibalíngua” para fazer um trocadilho haroldiano esse “jaguar nhem nhem” que é como fala o onceiro, jaguar nhem nhem é uma palavra que ele inventou, nhemnhem quer dizer falar em tupi. Jaguar nhem nhem é a fala da onça, é uma canibalíngua, é uma palavra tupi para dizer uma língua de onça, canibalíngua nesse sentido. Tem um estudo interessante, de uma moça acho que do Ceará (nome da moça) ela descobre um trocadilho ou não, com a palavra jaguaretê, é um trocadilho grego com iauaretê. A virtude do jaguar, jaguaretê quer dizer literalmente a onça de verdade, onça pintada e haveria um hibridismo grego-tupi na palavra. As questões lingüísticas do Meu tio o Iauaretê são imensas, tem uma coisa importante, a abolição da (…?), várias vezes o onceiro se exprime e fala “eu onça”, “eu rede”, “eu longe”, “eu toda parte”, (ele tira a…) (…). o tupi vai usar o verbo ser como (…?), ele tira o verbo “ser”, o nosso problema é o verbo ser, tira o verbo “ser” e não tem mais metafísica; de certa maneira o tupi não tem o verbo “ser” nesse sentido, então você tem esse “eu onça”, quer dizer, “eu sou onça”, “eu rede”, “eu quero rede” (…). Tem uma coisa importante do ponto de vista desse devir da linguagem que é volta e meia o onceiro diz, “sou eu quem tá dizendo, não sou ele”, isso é uma expressão típica de índio, é uma expressão típica dos dominados, (para o …?) é o contrário, o onceiro repete o tempo todo “não fale como aquele onça”, ele diz, “o senhor não pode, só eu posso dizer que eu matei”, no conto há uma série de metamesangem nesse sentido, “não fale”, “eu só falo se beber”, “você só escuta”, “não diz isso”, “só eu posso dizer isso”, como se em todo o diálogo na verdade o onceiro diz pro outro que ele não pode dizer nada, só ele pode falar essas coisas, então você tem uma coisa sobre a fala muito importante no conto. O conto começa com um convite que você faz a um vampiro, quando os vampiros são convidados, “o senhor quer entrar? Pode entrar”, o onceiro fala, como vocês sabem um vampiro que só entra em uma casa se for convidado e isso leva a uma questão séria posta na discussão, se afinal de contas, aquele cara que ouve essa história toda não foi lá para matar o onceiro, se ele não é, na verdade, um matador de aluguel que foi enviado para aquele lugar, para pegar aquele onceiro, que estava matando gente e, talvez, tomar o seu lugar, virar o próximo onceiro ou como diz o (…), talvez ele seja o Teseu (…) ele foi para matar o minotauro, não estava lá por acaso…se perdeu, ele se perdeu, mas não por acaso. Então, tem essa questão…a testemunha não é o narrador e você tem na verdade uma monstruosa inversão de toda… quem sabe uma monstruosa armação, no sentido de armaram para o onceiro. Uma coisa importante, um detalhe para terminar com a onça… a paixão pela cachaça, que é o elemento desencadeador da metamorfose em onça do onceiro, é um tema clássico do imaginário linguístico brasileiro, uma expressão como “bafo de onça”, que é cheiro de cana, cheiro de cachaça, um cheiro que imagina-se que uma boca perto, do seu lado você deve sentir. Tem uma bebida, que se serve como leite de onça de onça, que mistura leite com cachaça. A noção de que a onça e o álcool faz as pessoas virarem bicho é um tema clássico e é um tema indígena. Os guarani dizem que o cara que bebe vira onça, começa a comer carne crua e aí quase sempre tem que ser morto. Uma coisa importante da onça o que que é…como diz o guarani, o que significa “o cara que bebe vai virando onça?”. Ele esquece dos parentes, porque a onça não tem parentes. Esse é um ponto fundamental. A onça é uma antítese, para esses índios, a onça é uma antítese do parentesco, ou seja, aquela que não tem nenhum relação com você, que não tem qualquer espécie de piedade ou empatia por você. E a cachaça transforma, precisamente, um parente em um não parente, ele passa a não te reconhecer mais, ele vira onça. Mas o importante é que esse conto todo está montado em cima do parentesco do índio. Ele recusa o parentesco com o branco, eu não sou branco, eu sou índio, eu sou da família da minha mãe, meu tio é onça. Tio, vocês sabem, em tupi, e aqui a (nome) dá um escorregão relativamente feio, na interpretação antropológica, o tio que ele está falando é o tio materno, o tio para eles é o pai. Na verdade, os tupi…eles são matrilineares. Há uma adesão matrilinear, em que o tio, o parentesco matrilinear é classificatório. Não é nada disso. Os tupi, esse menino onceiro é tupi, ele é filho de (uma índia tapuia…), os tupi são eles são patrilineares, absolutamente patrilineares, sempre foram. E o importante do tio materno, (…) ele é de fato o oposto do pai, mas ele é o pai porque ele é o sogro. O tio materno é um sogro por excelência para os tupinambás. Ou seja, na minha interpretação, a Maria-Maria, aquela onça com quem o onceiro casa, é filha do tio dele. O tio jaguaretê é o sogro dele, que é um tema clássico da antropologia indígena mundial de que o tio materno é um personagem fundamental para o personagem que se opõe ao pai, que é o cunhado do pai. E o que ele faz é optar pelos afins, ele vai optar pelos consangüíneos. Ele opta não só pelo lado da mãe, mas também ele se alia a tribos das onças, não é que ele é onça, ele se alia a tribo das onças, ele diz “a minha lealdade está com as onças”. O tio materno, então, o tio jaguaretê, é o pai da Maria-Maria. O tio jaguaretê é um personagem que não existe, uma onça. “Onça é meu tio”. A espécie das onças é meu tio. E, portanto, a Maria-Maria é necessariamente filha do tio dele. Todas as onças são do tio dele, a Maria-Maria é uma onça, filha do tio, portanto, é a prima cruzada, que é a esposa preferencial. No caso da Clarice, o título que eu dei para a Paixão da Clarice, para o capítulo, é “através do espelho e o que Clarice perdeu lá”. É uma paródia com o “atráves do espelho e o que Alice achou lá”, do Lewis Carrol, e aqui através do espelho e o que a Clarice perdeu lá, só que o “através” aqui é no sentido oposto, porque ela diz, no começo do conto, parafraseando, “eu era mulher de classe média, burguesa, rica, branca etc” e aí ela diz “eu vivia dentro de um espelho. Dois minutos depois de nascer, eu já havia perdido as minhas origens”. Quer dizer, ela vivia dentro de um espelho, e A paixão segundo G.H. é precisamente o que acontece quando ela sai do espelho, não quando ela entra no espelho. Nós todos vivemos dentro de um espelho, o ser humano é viver dentro de um espelho. Então para você chegar no real, você tem que sair de dentro do espelho, você tem que deixar no espelho uma porção de coisas, precisa perder lá, você tem que largar a humanidade pra perder todas as qualidades, todos os atributos, todos os adereços para poder ter contato com essa natureza terrível geral que é a vida crua, a vida nua, no sentido não (…?), talvez, que é a vida que está lá fora. Então através do espelho e o que Clarice perdeu. Ela saiu do espelho para entrar no quarto da empregada. O quarto da empregada é claramente uma aventura de Alice. Vocês podem ler o romance de novo, reparem, ela entra no quarto e muda tudo, muda o tamanho das coisas, a forma do quarto, ela bate com a cabeça não sei onde, a entrada estreita do quarto, você tem uma topologia bizarra, uma perspectiva bizarra do quarto, o sol fica fixo, as paredes caminhando, ou seja, a impressão que você tem é que ela está passando por um processo semelhante ao da Alice, ainda mais que ela tem toda uma dinâmica da verticalidade e do soterramento. Ela afunda, ela sobe, ela desce, ela vai cavando, cavando, ela começa a entrar no mundo vertical, ela está no alto da cobertura de um prédio e vai afundando no deserto, nas areias, tem todo um procedimento carrolleano, aliceano aí nesse conto. Ela fala em afundar numa mina, um desmoronamento, tudo isso dentro do quarto. Esse quarto é claramente o buraco do coelho branco, no caso, da empregada negra. E toda a ideia dela, esse tema de dentro do espelho, sair do espelho, é um tema fundamental, lembra a famosa frase de São Paulo: nós vemos agora por um espelho como se por um espelho em enigma, mas então, no futuro, nós vamos ver claramente de frente a frente, ou seja, a ideia de que agora (nós vemos todos) através do espelho e um dia vamos ver frente a frente. Então você tem todo um processo de sair do espelho, sair do espelho é ir para fora da representação, em direção ao inumano, ou pós-humano. Esse texto é equivalente ao próprio homem sem qualidades do Musil, essa aqui é a mulher sem qualidades, G.H. é a mulher sem qualidades. Não tem nome, só as iniciais, vai perdendo. (…). O conto tem uma temática canibal óbvia, desculpe, o romance da Clarice, a outra temática canibal interessante, embora tenha o tema da fome, da nudez o tempo todo, a grande, digamos assim, sensorialidade canibal, antropofágica do texto é a náusea. A náusea canibal. Ela sente náusea. Em vários momentos a náusea é o slogan do Sartre, náusea, existencialismo etc, a Clarice já foi chamada de tudo, de existencialista, sartreana, heideggeriana, no livro do (…?) diz, eu cito, não podemos nos esquecer que Clarice é a mais deleuziana das escritoras. É uma maneira na verdade de dizer que ela faz filosofia, eu realmente acho, eu concordo, ela é a mais deleuziana das escritoras. Enfim, a náusea aqui não é a náusea sartreana, é a náusea canibal e está ligada a uma energia diabólica, que é comer a massa branca da barata, como a hóstia das (…?) e a barata parece uma espécie de anticristo em certo sentido. Ela é noiva, negra, impessoal, genérica, arcaica, é a antítese humana, é o fim do homem. Ao mesmo tempo, ela chama essa devoração da massa branca da barata por uma expressão curiosíssima, ela chama “isso que eu estou fazendo é um anti-pecado, uma palavra só. Bom, vou parar nesse meio aqui, eu termino com uma frase dela, em que ela diz, todo esse processo que ela passou, ela diz, foi um êxtase sem culminância. É uma expressão fortíssima. Ela termina assim, dizendo assim bom, esse processo aqui que eu passei foi um êxtase sem culminância. É uma epifania sem visão, uma epifania em que você fica cego de certa forma. E é interessante essa noção de êxtase sem culminância, primeiro (…) eu era uma mulher que vivia num estado inconstante, calmo, num sereno pré-clímax. A ideia é que ela vivia eternamente a beira de alguma coisa que nunca se completava. E a epifania dela tem um êxtase sem culminância, é como se ela tivesse… isso lembra evidentemente uma noção que o Deleuze e o Guattari vão utilizar (.. um antropólogo) que é a ideia do platô, no título dele mil platôs, é o platô de intensidade. É uma coisa que eu venho observando na forma como crianças em geral pararam (de mencionar o nome dos pais deles..?) e conta como se instala desde pequeno nas crianças, que as mães vão conduzindo os bebês a um estado de excitação erótica, erótica no sentido freudiano, genérico do termo, não é masturbação necessariamente, mas assim que a criança está quase no clímax, algum tipo de clímax libidinal, a mãe ou pai vira o rosto, se desinteressa, mantém a criança numa espécie de patamar em que todas as coisas passam por esse… são êxtases sem culminância, você leva o processo até um certo momento e aí você mantém a pessoa numa espécie de estado de pura intensidade sem resolução. Essa irresolução, do êxtase sem resolução, nesse caso, irresoluto, é uma ideia fundamental para entender inclusive o processo de devir, no qual o devir não termina nunca, ele não começa. (…). Eu queria ler um parágrafo da Clarice em que ela fala do que ocorre nesse parágrafo, chama a prova independente da pertinência do que eu escrevi sobre o perspectivismo, que é a relação do perspectivismo com a antropofagia. A frase da Clarice é essa: “Não sei o que uma barata vê. Mas ela e eu nos olhávamos, e também não sei o que uma mulher vê. No mundo primário onde eu vou entrar (…) os seres existem para os outros como modo de se verem. Há vários modos que significam ver, um olhar o outro, sem vê-lo, um possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali também, tudo isso também significa ver. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo.” Você tem uma visão corporal, que é ao contrário de uma visão individual no sentido que nós (…?), mas a visão com o corpo, a ideia de que comer o outro é ver o outro, comer e ver são intercambiáveis. O texto todo é obcecado com o problema do ver. O que ela está vendo? E uma hora ela pergunta o que uma barata sente? É uma pergunta idêntica ao do Guimarães, só que com mudança fundamental do verbo. O senhor sabe o que uma onça pensa? E ela pergunta o que uma barata sente. Mas o Guimarães, o que uma onça pensa, vocês devem lembrar, numa passagem famosa, ele diz a onça só pensa uma coisa: tudo bonito, tudo bom, tudo bonito, ela vai andando e pensando está tudo bom e tudo bonito, aí tem uma hora em que tem um ataque, uma crise animária, (…?) não é preciso ser onça pra perceber isso. A onça pensa isso mesmo. Tem uma frase do Lévi-Strauss que ele usa, eu lembrei dessa frase da onça, que é o seguinte, o Lévi-Strauss fala assim, ele está falando dos animais em geral, nada a ver com onça, ele está falando dos animais, como é a cognição e ele diz assim: “podemos imaginar que os animais vivem num (contraste) de estados que os faz passar sem transição de um êxtase (…) de existir, onde todos os seus músculos se relaxam a crises ansiosas súbitas provocadas por um barulho, um odor, uma forma, de um segundo a outro, como observamos podemos contar os músculos que se preparam para dar o bote”. Ou seja, o Lévi-Strauss está falando exatamente o que o Guimarães escreveu melhor. O animal num momento de (…) está tudo bom, tudo bonito, aí de repente tem crises ansiosas súbitas, ela vê um porco e pula em cima, destroça, destraçalha o porco, depois…tudo bom, tudo bonito. Vou parar e a gente continua conversando o que vocês quiserem.
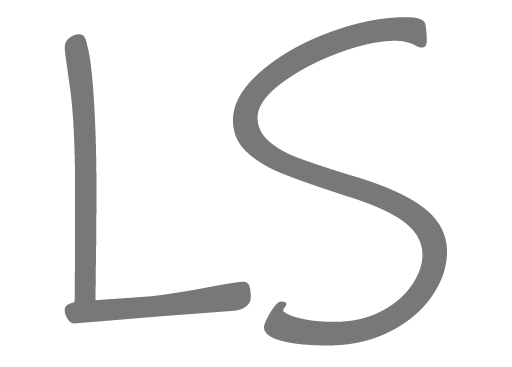
Deixe um comentário